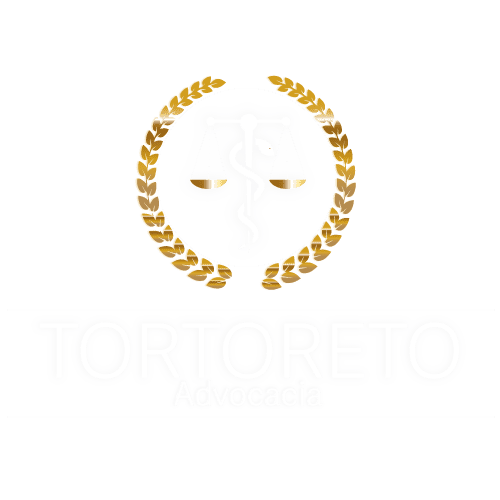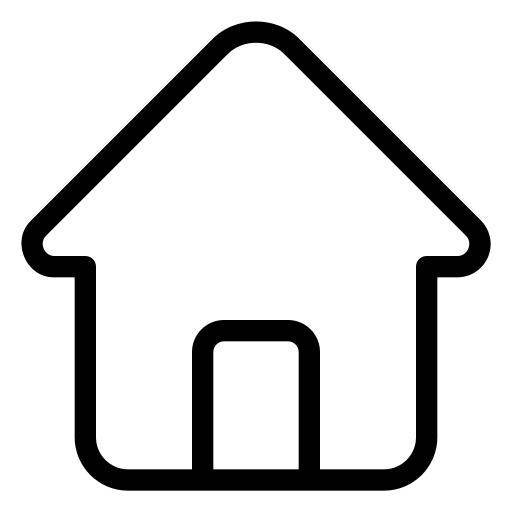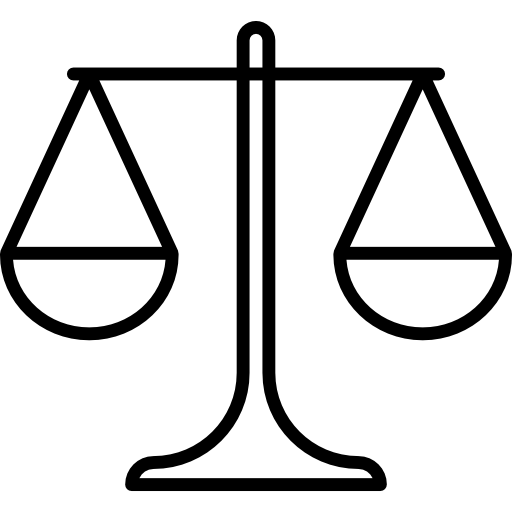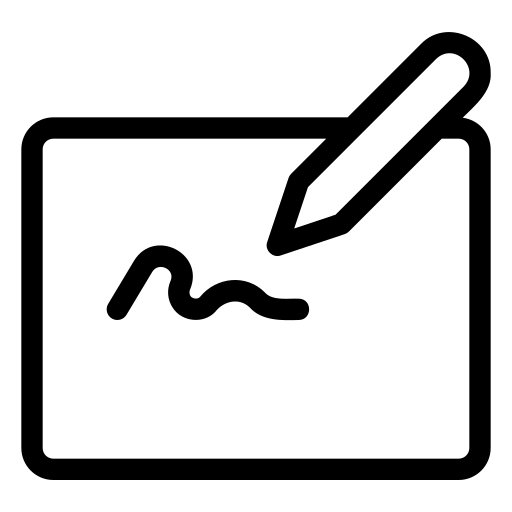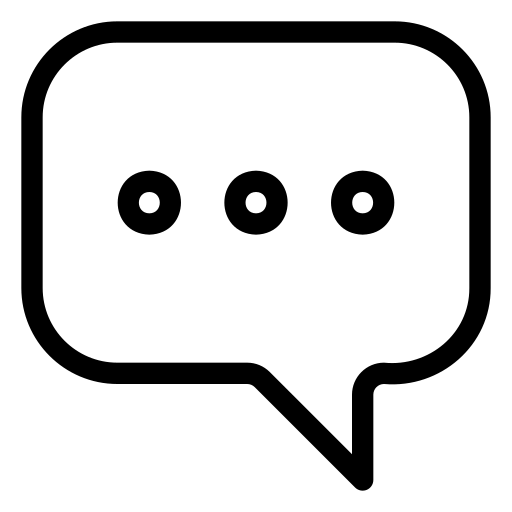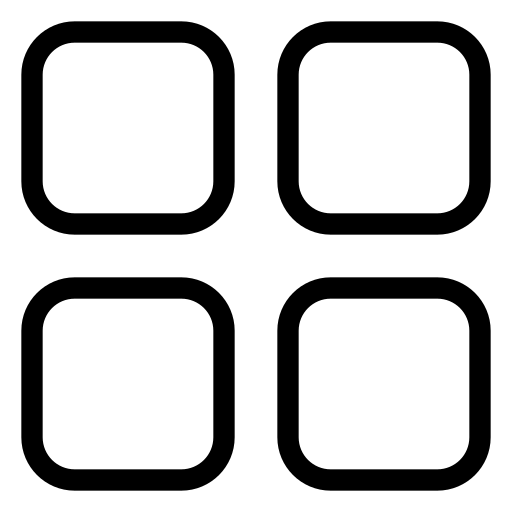Nos dias atuais com frequência ouvimos as expressões, “direito de igualdade” e “igualdade de condições”, mas afinal, qual é a diferença entre elas?
A pergunta já denota um paradoxo, posto que, através da identificação da diferença, se propõe ao reconhecimento de uma igualdade.
Contudo, no que se refere ao direito de igualdade, podemos afirmar que esta proposição é verdadeira, pois, embora a constituição federal em seu artigo 5º, caput, declare de maneira formal que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”, na prática, isso não significa que o legislador tenha colocado todas as pessoas nas mesmas posições jurídicas ou que elas tenham as mesmas características naturais e nem que se encontrem em condições fáticas idênticas.
Ao contrário, em um país historicamente marcado pela desigualdade como o Brasil, o constituinte de 1988 exigiu que as diferenças sejam revisitadas, colocando os grupos marginalizados em igualdade de condições, para que exerçam o direito a igualdade.
Neste sentido, vale lembrar que alguns grupos da sociedade, por disposição de Lei, recebem proteção especial do Estado, devido às suas condições particulares ou vulnerabilidades, tais como crianças e adolescentes, idosos, população negra, pessoas com deficiência, gestantes, povos indígenas e quilombolas, dentre outros.
Assim, a ideia de que as diferenças devem ser consideradas quando se pretende que a igualdade seja alcançada, não é nova. Cerca de 350 A.C., Aristóteles, já defendia tal concepção em sua obra Ética a Nicômano[1], onde declara que o igual deve ser tratado igualmente e o desigual desigualmente, não em um sentido formal, mas em um sentido material de igualdade.
Dessa forma, a partir da constituição de 1988, nasce para o Estado brasileiro, a obrigação de promover a igualdade não apenas declarada, mas fática e material, através da elaboração de um arcabouço legal e instituição de políticas públicas que adotam como diretriz a efetivação da igualdade de oportunidades aos grupos minoritários, assim entendidos, aqueles que em momentos da trajetória histórica e política de nossa nação foram marginalizados e não tiveram a plenitude de seus direitos garantidos na participação política, econômica, social, educacional, cultural e esportiva, buscando corrigir as desigualdades e garantir a igualdade de condições e dignidade inerente a todo ser humano ( art. 1º, inciso III C.F.)
Ora, mas se é a própria Lei que estabelece o tratamento diferenciado a determinados grupos, como fica então, o enunciado do art. 5º da C.F[2]: “Todos são iguais perante a Lei”…?
A questão comporta uma ambiguidade, contudo, a resposta, encontra-se na distinção entre o tratamento juridicamente desigual e o tratamento faticamente igual (ou seu inverso, juridicamente igual, mas faticamente desigual) sem que isso implique em ofensa ao princípio da igualdade.
Para melhor elucidação, tomemos como exemplo que no Brasil, qualquer pessoa que pretenda se utilizar da via judicial para solução de uma lide, de acordo com a lei processual civil, deverá recolher as custas e suportar eventuais despesas processuais e honorários de sucumbência. Até este ponto, o tratamento jurídico é igual para todos, sem qualquer distinção.
Contudo, sob a perspectiva do direito de acesso à justiça, os necessitados e hipossuficientes financeiros, devem, independentemente do recolhimento de taxas, terem assegurados, em condições de igualdade, seu direito fundamental de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos, contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5, XXXIV, “a” C.F). Nesse cenário, o Código de Processo Civil exceptua, em seu art. 98 e seguintes, a obrigatoriedade das custas, despesas e honorários, aos que declararem e comprovarem a insuficiência de recursos, no intuito de corrigir uma desigualdade material.
Assim, pode-se dizer que a legislação processual civil, para alcançar um tratamento que conduza a uma igualdade fática, qual seja, necessitados e não necessitados terão acesso à justiça, cria uma exceção, acentuando um tratamento jurídico desigual.
Neste entendimento, promover alguns grupos, como no exemplo, os hipossuficientes, implica em tratar os demais de forma desigual perante a lei, mas, o que sugere ser uma colisão de direitos fundamentais, na verdade, compõe-se como um supraprincípio para o fim de alcançar a efetividade da igualdade de forma ampla.
Esta situação foi o que o filósofo e jurista Robert Alexy, denominou de paradoxo da igualdade, pois de acordo com o autor: “Quem quer efetivamente promover a igualdade fática tem que estar disposto a aceitar a desigualdade jurídica”[3] e, em sentido inverso, “Quem defende a igualdade apenas em sua forma jurídica declarada, tem que estar disposto a reconhecer que estará promovendo a desigualdade material”. (grifos nossos).
[1] ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Coleção: Os pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1987.
[2] BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.
[3] ALEXY. R. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva; 2ª ed. Editora Malheiros-São Paulo, 2012, p. 417.
.